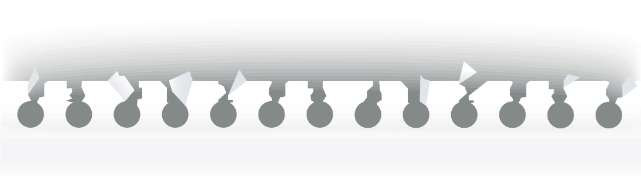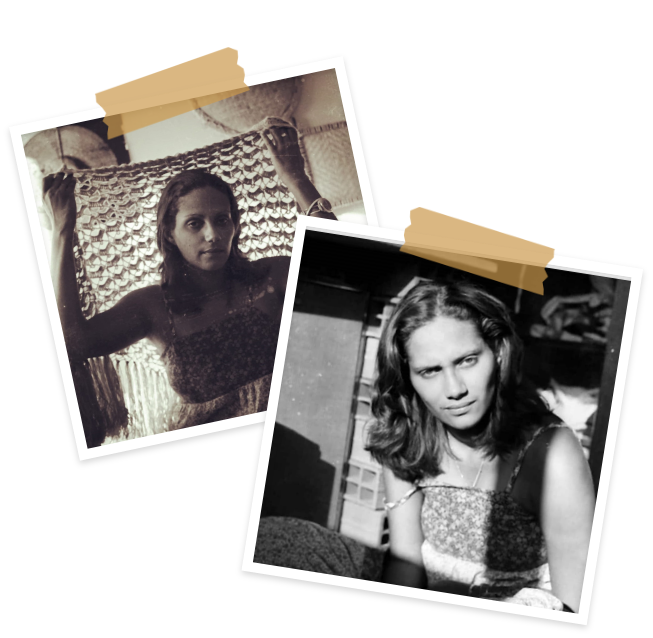Magali Mendes: pra fora e acima da manada
Doutrinadora, sim, no melhor sentido da palavra, não do jeito que anda nas piores bocas da atualidade
(Tentei, mas há pessoas sobre as quais não se pode falar sem autorreferência. Precisamente, aquelas que são definitivas na formação de outras pessoas. Mais do que ficar no afeto e nas lembranças, grandes educadores/as permanecem na estrutura de quem teve a sorte de ser aluno/a, extrapolando uma matéria específica. Então, desculpe que também seja sobre mim, um texto que é para ela.)
A Flavia de 15/16 anos andava, numa escola baiana de “elite”, de camiseta branca e sem sutiã. Também não penteava os cabelos longos e cacheados. Usava calças muito folgadas e sapatos estranhos. Namorava muito e não escondia isso de ninguém. Além de tudo, bebia e fumava. Um dia, estava triste na aula, que o rapaz com quem ficava – e por quem achava estar apaixonada – não “assumia a relação”, aparentemente porque ela era muito “fora do padrão”.
A incomum melancolia da aluna chamou a atenção da professora de redação que quis saber o que se passava. Aluna de olhos marejados, história contada, a professora só disse: “ele não vai segurar na sua mão, nenhum homem segura em nossas mãos, somos nós que seguramos nas deles, aprenda logo isso e, se quiser, vá lá resolver”, olhando nos olhos da aluna e logo se levantando da cadeira lembrando que as duas tinham mais o que fazer do que perder tempo com comportamento corriqueiro de projeto de homem padrão.
Mesmo que, hoje, eu já tenha cansado um pouco desse “protagonismo” (e, mais ainda, do tipo “homem padrão”), na época eu fui lá, resolvi a parada e me senti mais poderosa do que a Mulher-Maravilha. Rá! Eu podia dar as cartas, se quisesse. Perdi as contas das tantas vezes em que, depois dessa conversa com minha professora, eu disse “quero você” a quem desejei, sem timidez alguma. Ao longo da vida, fui entendendo, também, que essa é só uma das possibilidades de interpretação daquela frase que ecoa em mim até hoje, sempre verdade aplicável a diversas situações nas interações românticas entre homem e mulher.
Magali Mendes é o nome da pessoa que me deu essa lição e tantas outras, durante o tempo em que foi minha professora. Foi ela, por exemplo, que me apresentou ao meu próprio racismo, aquele que vem de berço e eu negava com veemência, ignorante utilíssima da minha hipocrisia. Fui desmascarada, morri de vergonha, mas também cresci e pude me colocar – não apenas achar que estava – no lado bom da força. Naquela época, ainda não se falava em “antirracismo”, mas já se praticava, saiba.
(Aquilo que ela fazia era guerrilha, ocupação, qualquer coisa menos apenas ensinar a jovens de classe média e média/alta como interpretar e escrever textos pro vestibular.)
Magali também ensinava luta de classes, tanto quanto qualquer bom professor/a de História, ao explicar, detalhadamente, os motivos das tantas greves de professores/as, as decisões e posturas de um sindicato efervescente. Tudo perfeitamente contextualizado, diante de uma sala onde quase todos/as eram “filhos de patrões”, ainda que houvesse uma variedade de posições financeiras. Eu estava ali por um importante esforço dos meus pais (e havia colegas na mesma situação, além de filhos/as de professores/as), mas dividia a sala com herdeiros de grandes empreiteiras, sobrenomes políticos importantes ou apenas ricos anônimos e nenhum uniforme os “uniformizava”. Mas ela, sim. Ao conseguir a empatia daquele lote de adolescentes, ela fazia mais por nós do que pelo movimento da categoria.
(Doutrinadora, sim, no melhor sentido da palavra, não do jeito que anda nas piores bocas da atualidade.)
Era grande como o quê aquilo que Magali nos trazia na voz firme, na bibliografia indicada, nos retornos do que escrevíamos, nas provocações para as quais não perdia oportunidade. Também nas páginas mimeografadas e no toca-fitas prateado que dizia, lá de dentro, Cazuzas, Caetanos e um monte de outras coisas de seduzir ensinando gente a pensar. Nós todos/as com a letra da música em mãos, audição encerrada, e aí “você entendeu o quê da primeira estrofe?”, Magali perguntava chiando nos “s”, mas não só da carioquice de origem. Era ela falando em magalilês, aquela língua de pessoa inteligente que me deixava vidrada como em raras, raríssimas aulas. Tudo tinha profundidade.
As aulas de Magali eram lugar de expandir, de olhar para todas as coisas, de despertar consciência crítica. Eram treinos pra deixar a cabeça esperta, pra entender o que o outro quis dizer, pra aprender a dizer o que queríamos, com cada palavra em seu lugar. Aquilo era veneno antimediocridade em doses cavalares, era provocação de olhares incomuns. É claro que havia muita técnica ali, mas eu só via generosidade, o mundo se abrindo na minha frente, como se já estivesse transportada para novaiorques, sevilhas, londres, festivais, trens, palcos, livros, trânsitos e todos os lugares, liberdades e insubordinações que eu só conheceria depois, mas já se anunciavam, desejo, em mim. Aquela professora era, entre tantas coisas, também minha viagem pro futuro, cenoura na frente do meu nariz.
Magali tinha o hábito de ler as melhores redações de uma turma, em outras turmas. Um dia, a notícia chegou pelo corredor: foi a minha vez. Então, ela achava que eu escrevia bem? Ca-ra-lho!!! Melhor do que publicar no The New York Times. Na minha cabeça, passei a fazer parte de uma casta especial: a das pessoas que escreviam redações usadas como exemplo por Magali Mendes. Uma imensa responsabilidade, achei, capricho redobrado nas próximas e samba na cara da sociedade mundial que só não foi maior do que no dia em que ela me deu Vaca Profana, a música, de presente. Luxo, poder e glória. Guardo isso comigo até hoje e escutar essa música é um acessar de memórias recorrente, quando preciso me refazer.
Magali me fazia sentir especial. O que podia ser mais forte do que a aprovação da professora mais foda do colégio que eu achava melhor do mundo? Ela me legitimava, me arrumava por dentro, me ensinava que havia algo de muito sério a ser feito aqui. Passei um tempo acreditando que eu era das cinco pessoas preferidas dela, mas esse número foi crescendo e de repente entendi que eram dezenas de preferidos, centenas e talvez sejam milhares. O que não me faria sentir suficientemente “querida” aos 15/16 anos e, talvez por isso, ela me deixasse acreditar que eu ocupava um lugar muito privilegiado nos afetos dela. Porque, né? Aquele eguinho recém-nascido, aquele pobre ser em formação, tava precisando e ela sabia, claro.
Agora, a consciência de que talvez sejamos milhares, me conforta. Pode ser que a gente seja uma tribo, sei lá. Me sinto acompanhada. Também quitada, nessa despedida, porque disse a ela, em vida, o que precisava dizer. Eu já não encontrava Magali há muito tempo, mas não foram poucos os “Magaaaaaaa” que gritei, nas últimas décadas, ao vê-la em algum lugar aleatório, antes de um abraço. A minha idade adulta nos trouxe amigos e situações em comum, mas eu nunca me acostumei a vê-la como uma igual, ali num encontro ou numa mesa de bar. Toda vez eu ficava olhando e lembrando do quanto ela me acolheu e estruturou. Não viramos amigas íntimas, não nos frequentamos, não nos adicionamos nas redes sociais. Não foi o caso. Não precisou.
Acabo de receber a notícia de que, depois de uma amorosa despedida, cercada de respeito, amparo e das melhores energias de muita gente, Magali foi embora. Esta redação, portanto, é uma tentativa de homenagem. Que não estará à altura da homenageada, certamente, mas contém um tanto de coisas – na forma e no conteúdo – que aprendi com ela. Também é o meu beijo, meu abraço na galera que fica e nas três lindas mulheres de sorte que conheci meninas e são filhas dela. Tomara que você goste um pouquinho, Maga, e que tenha partido daqui com a noção exata da sua grandeza.Termino de escrever numa tarde ensolarada de sábado, escutando Vaca Profana na voz de Gal. Na minha cabeça, o sentido da expressão “a gente só dá o que tem”. Eu sempre soube que o “meu presente” dizia menos de mim e muito mais de você. Voa!
(Pra fora e acima da manada.)